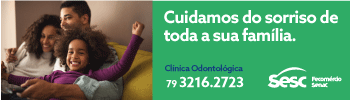Por Paulo Márcio
Há algumas décadas, o drama da criminalidade violenta estava praticamente adstrito às periferias dos grandes centros urbanos. As favelas, morros e baixadas, reduto dos espoliados e excluídos sociais, eram palco de toda sorte de violência, inclusive a violência policial, tanto mais covarde quanto menos abastados aqueles sobre a qual se abate. A cada ação perpetrada por um dos inúmeros grupos de extermínio em atuação, erguia-se a voz de um jornalista, de um político ou de um ativista dos direitos humanos contra a Polícia Militar e sua odiosa doutrina do inimigo.
A solução para tamanha brutalidade, vaticinavam intelectuais e acadêmicos, era desmilitarizar a polícia, escoimá-la do vetusto ranço autoritário, aproximá-la do cidadão, transformando-a, enfim, em instrumento de pacificação social e garantia da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Uma vez desmilitarizada a polícia preventivo-ostensiva, o passo seguinte seria promover sua unificação com a Polícia Civil, órgão responsável pelas funções investigativa e judiciária, criando-se, assim, uma polícia única no âmbito estadual.
A oportunidade para a implantação desse modelo – desconstitucionalizando-se ou não a segurança pública -, parecia ter surgido com a chegada da esquerda ao comando do governo federal, em janeiro de 2003. Sem embargo, o primeiro secretário nacional de segurança pública do governo Lula, Luiz Eduardo Soares, era um dos mais ardorosos defensores da unificação, embora reconhecesse que “com a desconstitucionalização, alguns Estados mudariam suas polícias; outros, não, seja porque consideram bom o modelo de que dispõem, seja porque não têm força política para operar a mudança. De todo modo, as eventuais dificuldades políticas de alguns Estados não se exportariam, automaticamente, para os demais, como ocorre quando a questão é ‘unificam-se as polícias ou não’, como solução única para todo o país.”
No entanto, após sua saída precoce da Senasp, em outubro de 2003, a ideia, que sempre encontrou forte rejeição entre os oficiais da PM, foi praticamente sepultada. Mas a indústria de soluções mágicas sediada em Brasília não tardou em encontrar um plano B para aquilo que constituía a essência do programa de segurança pública do Partido dos Trabalhadores. Assim, teve início a fase dois, também conhecida como período de “integração”.
Quem não tem unificação, conforma-se com integração, raciocinaram (ou racionalizaram) nossos estrategistas. A ordem, agora, era integrar tudo: estratégia, planejamento, operação, execução e, na medida do possível, até o espaço físico. Foi nessa época que espocaram os centros integrados de policiamento, centros integrados de segurança pública ou qualquer coisa que pudesse traduzir a mentalidade dos especialistas em semântica e jogos verbais aboletados no Ministério da Justiça.
Mas, como era de se esperar, a política de integração não resistiu à antiga rivalidade e acentuadas diferenças de formação e doutrina. Finda a experiência insólita, os antagonismos estavam mais exacerbados do que nunca. Pior do que isso, só mesmo o caos administrativo resultante da imiscuição de uma instituição nas atividades da outra.
Se as Polícias Civil e Militar já não conseguiam falar a mesma língua, após a malfadada experiência os comandos militares estavam absolutamente convencidos de que desmilitarização, unificação – e até mesmo a integração entre as forças policiais – eram temas provectos, antediluvianos, com os quais não poderiam gastar um segundo do seu espremido tempo. Com a autoridade de quem deixou o país atingir a assombrosa cifra de 56 mil homicídios por ano, chegaram à conclusão de que a única forma de solucionar os problemas de segurança pública seria investir violentamente contra a Polícia Civil e usurpar as atribuições conferidas aos delegados.
A usurpação começou pela elaboração de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), procedimento disciplinado pela lei 9.099/95 para a apuração das infrações de menor potencial ofensivo (aquelas cuja pena máxima cominada seja igual a dois anos). Não raro, os oficiais exercem pressão sobre os Tribunais de Justiça dos Estados para que tais procedimentos, lavrados clandestinamente, sejam aceitos pelos juízes, mesmo diante das reiteradas decisões do STF deixando claro que se trata de ato privativo da Polícia Civil.
Embora neguem suas reais pretensões, ao usurpar as funções do delegado de polícia, os oficiais desejam, apenas e tão somente, ser reconhecidos como carreira jurídica, na expectativa de obterem, se é que é possível, alguma vantagem adicional ou acumular mais poderes do que já dispõem.
Não obstante, como bons usurpadores que são, os comandantes militares não se contentaram apenas com o TCO. Em sua sanha autoritária, os juristas de coturno já avançam sobre as demais atribuições da Polícia Civil, as quais intentam açambarcar por meio de um conjunto de medidas conhecido como ciclo completo de polícia, deturpando e distorcendo conceitos e práticas policiais existentes em outros países. Assim, sem nenhum pudor, vêm realizando investigações, representando por prisões, busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico de civis. Tudo isso, é lamentável dizê-lo, sob os auspícios de setores do Ministério Público que se regozijam em bater continência para os coronéis.
Orgulhosos demais para assumir suas falhas no âmbito do policiamento preventivo-ostensivo; acomodados demais para reformar e modernizar suas corporações; omissos demais para combater a corrupção e a violência que medram em seus quartéis, os comandos militares transformaram-se em lobistas e vendedores de ilusão. A sociedade brasileira, no entanto, não permitirá esse retrocesso institucional, pois sabe quão nefasto é o regime em que o poder militar se sobrepõe ao civil.
O ciclo completo de polícia, nos moldes apresentados pelos comandos militares, lembra a anedota do prefeito que, ao invés de tapar o imenso buraco na entrada da cidade, aumentava a quantidade de leitos hospitalares e contratava mais profissionais de saúde para atender o número cada vez maior de acidentados. Pode ser até engraçado, mas, no fundo, é uma burrice sem tamanho.
PAULO MÁRCIO RAMOS CRUZ é Presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Sergipe e diretor da Adepol Brasil